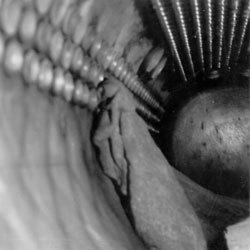|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Introdução
A vida de um oficial da Reserva Naval da Marinha de Guerra, nas décadas de sessenta e setenta, independentemente do tempo permanecido e das funções desempenhadas, deixaram marcas profundas na vida de cada um. No desconhecimento de alguma excepção, e admitimos ninguém ter fugido à regra, todos encontram razões para recordarem esse tempo ainda que, em alguns casos, vivências positivas possam mesclar-se de aspectos pontuais negativos. Foi crescimento forçado e maturidade acrescida para quem iniciava a vida de adulto, em oposição àquilo que nos parecia uma longa vida de estudante, a maioria das vezes no calmo aconchego, sem sobressaltos, da casa paterna. E sucedeu qualquer que tenha sido a Unidade ou Serviço, a navegar ou em terra, com qualquer especialidade, em cenários tão diversos quanto a expansão lusitana o permitiu, do Ocidente ao Oriente e ainda em cenário de guerra ou na ausência dele. Ao tempo, para um futuro oficial que ingressava na Escola Naval com a classificação de Cadete - uma espécie de pretendente a - para a frequência de um qualquer CEORN - Curso Especial de Oficiais da Reserva Naval (a partir do 9º curso a designação passou a CFORN, de formação) a vida não era muito clara hierarquicamente. Um Cabo era um “Senhor Velho” e um Almirante um “Velho Senhor”. Ambos respeitáveis mas, numa hierarquia mental nascitura, pouco esclarecida, o Cabo mais pela idade que pelo posto e o Almirante mais pelo posto que pela idade. O acesso a ambos era igualmente difícil, pela experiência e maturidade do Cabo e pela venerabilidade diáfana do Almirante. Numa linha de pensamento pouco elaborada um Cabo representava ranchos e um Almirante prémios ou castigos. Com clara vantagem para o primeiro. Hoje confundo-os. Nunca nas funções e tão pouco no posto. Ambos passaram a figurar na listagem dos mestres que complementaram a nossa formação humana e profissional. Lado a lado com os restantes Filhos da Escola: Oficiais, Sargentos e Praças. Usando e abusando das possibilidades abertas pela novas tecnologias da informação, as “crónicas” não mais pretendem ser do que um testemunho vivo da nossa passagem pela Marinha de Guerra. Saudamos, desde já, quantos aqui se cruzarem nestas crónicas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“Moisés Salomão” -
Angola 1968/69 Desde criança, não conhecia outra vida e outros mundos para além do quimbo, da lavra onde plantava e colhia a mandioca e da pesca no rio, cujo caudal sereno, prateado e calmo, na estação seca, lhe permitia andar dentro dele, com água pela cintura, deixando flutuar o cesto de canas que, ao afundá-lo, lhe mostrava, quantas vezes e com quanta generosidade, um saltitante peixe estrebuchando desesperadamente numa tentativa de fuga sem êxito. O final anunciado, bem como o de muitos outros companheiros do mesmo mundo aquático, era, depois de abertos e retiradas as tripas, a secagem em rudimentares estruturas de paus e ramos de árvores, preparando, assim, as “despensas” da população para períodos de menos abastança. A estação das chuvas fazia o rio perder as margens e as suas águas castanhas, barrentas espraiavam-se por quilómetros invadindo a chana, cobrindo os campos de mandioca, caminhos e picadas, isolando povoações, deixando-as resignadas e esperando serenamente que o retorno ao seu leito normal os pudesse levar de novo às tarefas agrícolas e piscatórias. Cresceu, fez-se homem e, como todos os seus companheiros e pelos costumes do sobado, casou cedo, com a filha do soba. O quimbo ficava na região de Serpa Pinto onde se lembrava de ter ido, uma vez a pé, pela picada e de ter ficado admirado por ter visto, pela primeira vez, casas sem ser de adobe, capim e troncos de árvores.
Brancos, já os tinha visto, pois, a tropa, de vez em quando, passava pelas suas terras e, também, “uns senhores que não eram tropa mas andavam armados como os “tropa” e faziam perguntas, entravam nas cubatas à procura de armas ou “combatentes” e, algumas vezes, davam porrada para saberem coisas…” Uma vida sem horizontes, de pobreza e miséria, dividida entre os “tropa” brancos e os “combatentes” pretos, foi-lhe alimentando o desejo de mudar, de procurar uma nova vida. Outros, já tinham partido e já tinham voltado. Haviam contado que, para Sul, havia outras terras, outras gentes, outros trabalhos que não a mandioca e a pesca e onde se podia ganhar muito dinheiro nas minas de ouro. Encorajado e decidido, rumou a Sul, a pé, por caminhos, picadas, mata, atravessou o sudoeste africano (Namíbia), foi perguntando onde ficavam as minas de ouro e ao fim de dois meses chegou à África do Sul onde não teve dificuldade em ser recrutado por uns senhores brancos. Por lá esteve dois longos e sofridos anos, tendo juntado os “randes” que julgava suficientes para iniciar uma nova vida. E regressou, pelos mesmos caminhos até à fronteira com Angola. Aqui chegado, depois de atravessar o Cunene, é surpreendido por um grupo de “combatentes” do MPLA que o despojam do que havia ganho e amealhado nas minas de ouro e o conduzem a uma base de guerrilheiros para passar a integrar aquele Movimento. Estes acontecimentos e os que lhe seguiram, iriam mudar completamente a vida que projectara! Passados meses em treinos de movimentações na mata, uso de armas de guerra e acções de guerrilha, rapidamente lhe reconheceram qualidades e aptidões para além das exigidas aos “simples” combatentes. Os dois anos de África do Sul, nas minas de ouro, haviam-lhe aberto novos horizontes, novos conhecimentos e saberes, outras competências e uma dimensão mais alargada do mundo, da sociedade e do homem. Os chefes não tiveram dúvidas em o mandar “estagiar” para a União Soviética, primeiro, e para a Argélia, depois. Por lá andou mais quatro anos! Aprendeu quase tudo sobre guerrilha, guerra psicológica, controlo de populações, comando e condução de homens em situação de combate na mata. Regressou a Angola “doutorado” na matéria! As saudades da família levaram-no a visitá-la no quimbo, onde a sua ausência/desaparecimento era, de há muito, conhecida. E não só pela família e população. Os senhores que não eram “tropa” mas andavam armados como eles e que apareciam, de vez em quando, lá pelo quimbo, também já sabiam da sua longa e estranha ausência. A sua notada chegada e curta estadia, antes de se apresentar aos chefes do MPLA, rapidamente chegou ao conhecimento da PIDE, em Serpa Pinto que, num ápice, o foi apanhar com “a boca na botija”, na companhia da mulher. Os métodos e técnicas de interrogatório, onde a violência física era dominante, deixaram-lhe marcas visíveis para toda a vida! Conhecidas as sua actividades de ligação ao MPLA e o seu percurso desde que regressara a Angola, vindo das minas de ouro da África do Sul, foi entregue ao Comando da Zona Militar Leste que, juntamente com o Comando das Forças de Marinha de Leste (Comformarleste, Comte. Sousa Campos) logo preparou uma operação, tendo como base as informações colhidas nos inúmeros interrogatórios. É, assim, que é recebida no Destacamento nº 2 de Fuzileiros Especiais(DFE2), no Chilombo, uma mensagem informando da chegada de um guia para acompanhar o Destacamento numa próxima operação. Dias depois, vindo numa coluna militar do Exército, chega ao Chilombo o esperado guia. Conduzido ao comando do Destacamento, na altura, o Imediato Dias Miguel, por ausência do Comandante Medeiros Ferreira, no Luso, logo são feitas as apresentações: Pergunta: “Como te chamas?”. Resposta: “Moisés Salomão”. Era um homem baixo e robusto, feições correctas, ausência de cabelo, com sinais evidentes de cicatrizes na cabeça, fruto de espancamento que lhe destruiu parte do crânio, aparentando à volta de 35 anos. Envergava um camuflado que ajustava ao seu corpo, arregaçando as mangas e dobrando as calças em baixo, pois o tamanho seria 2 números acima do seu! De “posse” do homem que me iria conduzir e orientar durante a operação, com ele travei diversas conversas ao longo do dia, tentando conhecer esta personagem que me iria marcar profundamente para o resto da minha vida, a tal ponto que, passados 37 anos, ainda o recordo e, por isso, aqui quero deixar este meu testemunho que não é mais do que uma sentida homenagem a um homem, um angolano, que de forma tão sentida e perene enriqueceu as minhas memórias de um período inesquecível da minha passagem pelos Fuzileiros e pela Marinha de Guerra Portuguesa.
A operação “Campino” integrada na “Victória II” teve início a 10 de Novembro de 1968 e tinha como objectivo montar uma emboscada junto a Cassupa (fronteira com a Zâmbia) para interceptar guerrilheiros do MPLA fugidos de uma outra operação feita pelo Exército e que teriam consigo um missionário raptado no Lumege. A operação saldou-se por “um êxito total e resultados apreciáveis” (terminologia usual da época), tendo merecido as seguintes mensagens de felicitações: Almirante Comandante Naval (Contra-Almirante Eugénio Ferreira de Almeida) – “COMARANGOLA felicita vivamente esse comando resultados obtidos acção Campino fazendo votos novos sucessos para prestígio vossa unidade e contribuição aniquilação do IN.”; Comandante Sousa Campos (COMFORMARLESTE) – “Meu nome pessoal, quer como Comformarleste, desejo transmitir oficial, sargentos e praças maiores felicitações votos novos êxitos cada vez mais expressivos.”; Comandante do DFE2 (1º TEN Medeiros Ferreira) – “Particularmente grato como comandante desse enviar valorosas felicitações êxito obtido transmitindo oficial, sargentos e praças tomaram parte acção.”
Para além dos acontecimentos atrás, muito resumidamente, descritos e que, naturalmente, constituem hoje parte de um património pessoal de um tempo riquíssimo que marcou e transformou a minha personalidade e o modo de estar na vida, ficou-me para sempre a recordação de um contacto humano extremamente enriquecedor com essa figura singular de seu nome Moisés Salomão. Ainda hoje, não posso deixar de recordar as suas palavras serenas, tristes e sofridas, quando, após o fim da operação e perante os resultados obtidos (diga-se baixas causadas ao IN), se me lamentava: “ Sinhor Tinente, tudo isto não faz sentido! Andamos a matar-nos uns aos outros, quando somos todos irmãos!”.
O
regresso foi festejado e todos fomos saudados pelos
companheiros que nos aguardavam no Chilombo. Merecemos
louvores, tiramos fotografias. Lamentavelmente, o Moisés
Salomão não ficou em nenhuma! Para nós tinha cumprido o seu dever. Será que nós o cumprimos para com ele? Não consegui evitar o deixar escapar uma lágrima de despedida. Não fiquei com uma fotografia dele e que tanto desejaria tê-la. Deixei-lhe como homenagem e reconhecimento aquela lágrima que ele compreendeu e retribuiu. Até sempre, meu amigo, estejas onde estiveres.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uma História
Quase Trágica Quem conheceu o rio Zaire e nele navegou desde Santo António, na Foz, até Nóqui na fronteira com o Congo, mantém certamente a recordação fantástica desse cenário de actividade da Marinha, nas muílas, no canal internacional, entre as inúmeras ilhas, ou nas áreas à guarda e vigilância dos postos fixos guarnecidos pelos fuzileiros. Era o ano de 1963. Novembro, um mês de intenso calor, de noites que convidavam a longas conversas no convés do navio, em total ocultação de luzes, fundeado longe das margens para fugir à praga dos mosquitos. Na “Fomalhaut”, como aliás na “Rigel”, na “Pollux”, na “Espiga” ou na “Régulus”, que nessa data constituíam parte da Esquadrilha de Lanchas do Zaire, cultivava-se o gosto nocturno pela contemplação do céu estrelado e pelo ”ouvir” do silêncio profundo, convite à nostalgia e às lembranças longínquas e íntimas de cada um. Foi assim na noite de 5 de Novembro de 1963, interrompida pela largada e chegada dos botes em patrulha, emboscados ou à deriva rio abaixo. Um a um, os membros da guarnição e o pessoal fuzileiro embarcado para as missões de patrulhamento foram-se recolhendo aos beliches, ficando apenas o vigia e quem com ele partilhava mais algum tempo. Uma noite, como tantas outras.
Na manhã seguinte, enquanto o pessoal se ocupava nos serviços determinados e o comandante ultimava o relatório da véspera no Diário Náutico, antecedendo o levantar ferro para novo dia de missão, uma tremenda explosão abalou o navio, originando as mais diversas reacções de quantos se encontravam a bordo. Nada mais natural, num espaço limitado a 20 metros de comprimento, no meio de um rio onde a corrente ultrapassava os 6 nós e com a companhia dos crocodilos como fauna mais simpática. Sem conhecimento das causas da explosão, de imediato apenas a constatação de que o tejadilho da lancha tinha sido arrancado das suas fixações e que, vindo da casa da máquina, no meio de espessa fumarada, o marinheiro fogueiro António Alexandre Martins apresentava evidentes sinais de queimaduras no corpo e nos membros. Mas não foram apenas estes os factos evidentes. Sem que ficasse devidamente esclarecido, dois homens apareceram dentro de água, levados pela forte corrente, um deles, mais calmo, prestando ajuda ao outro em semi-estado de pânico. A bordo, a experiência do Mestre Carlos Martins Lota, um veterano já com 38 anos de Marinha, impôs-se a toda a guarnição, improvisando-se uma actuação eficaz que mais poderia parecer ter sido ensaiada em prévio plano de adestramento básico.
As ordens sucederam-se, adequadas como se constatou mais tarde. Enquanto isso, o marinheiro fogueiro Alexandre Martins desceu novamente à casa da máquina e no regresso ao convés, trazia um depósito de gasolina a arder, que explodiu no momento em que era lançado borda fora. Esta acção evitou certamente consequências irremediáveis para o navio e para a guarnição, tendo resultado deste acto um agravamento das queimaduras do marinheiro. Entretanto, foi largado um dos botes, na tentativa de apanhar os dois homens que, apesar das fortes braçadas não conseguiam anular a corrente do rio. Na ânsia do momento, ninguém se apercebeu que o bote largou com o motor, mas sem que o respectivo depósito de gasolina estivesse a bordo. Mesmo à força de remadas, foi uma eternidade o tempo decorrido até que os náufragos fossem alcançados. Salvos e içados para bordo, a sensação de alívio de todos que presenciavam a cena é difícil de descrever. Havia então que fazer chegar o depósito para que o bote regressasse ao navio pelos seus meios e o marinheiro Alexandre Martins, fortemente queimado e desesperado, pudesse seguir para Santo António do Zaire com a máxima urgência. O “côco” de bordo cumpriu essa missão, também aqui à força de remadas vigorosas. Enquanto estas cenas se sucediam, o marinheiro telegrafista Manuel Cordeiro da Costa, o mais novo membro da guarnição, cumpria impecavelmente as ordens recebidas, emitindo mensagens para a Defesa Marítima, pedindo o auxílio do Posto de Fuzileiros mais próximo, o da Quissanga, na altura comandado pelo 2.º tenente Élder Martins Viegas, alertando as várias Lanchas que em diferentes áreas cumpriam missões semelhantes à da “Fomalhaut”, e enviando um rádio para o Comando Naval, solicitando o apoio da Força Aérea para evacuação urgente do marinheiro sinistrado. À distância, no tempo, decorridos mais de 40 anos, na presença de documentos da época e de fotografias, está ainda na minha memória esse dia fantástico, sem dúvida o mais marcante de toda a comissão em Angola. Meia hora decorrida chegavam, quase em simultâneo, dois botes do posto da Quissanga com o 2.º tenente Élder Viegas, que cobriram e protegeram da água o marinheiro Alexandre Martins e largaram de imediato para Santo António do Zaire. Soubemos, ao chegar à Base, que a evacuação se efectivara já, e que o avião da Força Aérea largara de Luanda, com destino ao Zaire, apenas 12 minutos depois de ter sido recebido o apelo do navio. Actuação impecável. Das Lanchas, entretanto chegadas ao local para o auxílio necessário, foi a “Rigel”, sob o comando do 2.º tenente João Manuel Nobre de Carvalho que passou um cabo de reboque à “Fomalhaut”, porque na dúvida acerca da verdadeira causa da explosão se entendeu conveniente não arrancar com os motores sem uma prévia inspecção. Dúvida esclarecida mais tarde. Uma fuga no depósito de gasolina originara a libertação de gases e, em atmosfera fechada como era a da casa da máquina, quando se procedia à limpeza dos terminais do motor de arranque com um pincel, uma faísca provocou o acidente. António Jorge de Almeida Pinto, comandante da “Pollux” e José Manuel Garcia e Costa, da “Espiga”, dois subtenentes da Reserva Naval, constatada a situação, regressaram às respectivas zonas de patrulha. Embora tendo bem presente todo o cenário em que se desenrolou este episódio, já não retive na memória o seguimento dos dias imediatos. Apenas confirmei, no Hospital Militar de Luanda, tratado e acompanhado pelo 2.º tenente médico Eduardo Magalhães Crespo, da Companhia n.º 1 de fuzileiros, que o marinheiro Alexandre Martins recuperara, decorridas várias semanas, dos ferimentos recebidos.
Esquecera no entanto, se alguma referência, por escrito, teria feito acerca da actuação deste marinheiro. Não fazia parte dos objectivos daquela guarnição a procura de elogios. Constatei agora, consultando o processo do marinheiro António Alexandre Martins, que um louvor dado pelo comandante da Lancha “Fomalhaut”, fora confirmado pelo Almirante Comandante Naval e publicado na Ordem da Armada e, na sequência, ao mesmo fora conferida a Medalha de Mérito Militar. Mas não foi o único. Também ao Mestre Carlos Martins Lota, no final da sua comissão nesta mesma Lancha, alguns meses passados, foi concedida a Medalha Militar de Cobre de Serviços Distintos com Palma. Reformado e recolhido na sua terra, o agora 1.º sargento António Alexandre Martins tem do então comandante do NRP “Fomalhaut”, passados mais de 40 anos, a referência que faltava fazer publicamente. Carlos Martins Lota, sargento de manobra, João Cordeiro, o “Montijo”, cabo Artilheiro, Manuel Costa, marinheiro telegrafista (estes três já falecidos), Henrique Mendes, marinheiro artilheiro, Joaquim Amador, marinheiro fogueiro e António Alexandre Martins, marinheiro fogueiro, formavam a guarnição da “nossa Lancha” nessa data. Realce para o facto de, com excepção do telegrafista que abandonou a Marinha algum tempo decorrido, todos os outros terem passado à situação de Reserva da Armada, no posto de Sargento. Mérito indiscutivelmente reconhecido ao seu alto nível. Dos restantes membros da guarnição, fuzileiros “sem nome” em diligência e embarcados nesse dia, fica nesta crónica referência à sua actuação e o quanto, por vezes, é injusto o silêncio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na Fragata "Diogo Cão" em 1962
Corria o ano de 1962 e a Fragata Diogo Cão, imobilizada na ponte - cais do Arsenal do Alfeite “jazia” em fabricos passados que estavam oito meses. Enquanto o pessoal de bordo se divertia em múltiplas tarefas, do batuque do pica e raspa às rotinas dos radares e das peças de artilharia, ou ao pára - arranca dos geradores, o tempo voava com a esperança de um dia fazer voltar a navegar um navio que a “benevolência” americana cedera a Portugal na certeza de poder escoar, com este cliente, os inúmeros sobressalentes que ainda existiam nos seus armazéns. Poder-se-ia pensar que era certa a condenação de estarmos perante um simulador flutuante, aproveitado para dar tempo de embarque a marinheiros necessitados dele para tirocínios e promoções. Confesso que a decisão de me oferecer para a Reserva Naval, assentava em duas bases fundamentais: primeira que me fosse exigido saber nadar, segunda que me fosse dada a oportunidade de embarcar num navio operacional. Não sendo assim, teria deixado que o serviço militar seguisse as vias naturais, até que dum qualquer quartel da “magala” me viesse a convocatória para aprender a fazer de sentinela ou o ombro - arma na perfeição. Já toda a guarnição tinha frequentado a Escola de Limitação de Avarias, esperançada em que uma melhoria de conhecimentos na matéria poderia contribuir para acelerar a reparação do navio. Pura ilusão, que só ao pessoal civil do Arsenal era reconhecido o estatuto técnico para tal tarefa. Não restava outra alternativa que não fosse aguentar firme, aprendendo e melhorando o saber de cada qual, executando o Plano de Adestramento Básico, treinando nos simuladores existentes na Base Naval, afundando navios de superfície, submarinos, ovnis, pirogas e outras espécies raras, incluindo todo o tipo de aeronaves que por azar entrassem no ângulo de tiro das nossas peças. Nada escapava à nossa perícia e posso assegurar que ganhámos todas as batalhas. Viesse a guerra e o sucesso estava garantido. Finalmente, em Dezembro desse ano, chegou a boa nova. O navio tinha data marcada para as provas de mar, com as indispensáveis compensações da Giro e a Corrida da Milha. Para a História, aqui ficam os nomes dos Oficiais que formavam a Câmara do navio, nessa data: Comandava o CFR Henrique Mateus da Silveira Borges; Imediato, o CTEN Gabor Albert Ferdinand Ziegler Patkoczy, um nome que levei três meses a decorar sem saber que era simplesmente o Sr. Silva; o 1.º de Máquinas era o 1.º TEN EMQ Fernando da Silva Nunes; o 2.º e o 3.º, respectivamente o 2.º TEN EMQ Rui Patrício Figueiras e o GM EMQ Mário Abrantes Rodrigues de Almeida. Completavam a equipe, o 1.º TEN Raul Trincalhetas Janes Semedo, nas Comunicações, o 1.º TEN António Augusto Gomes da Silva, na Artilharia, o 2.º TEN José Carlos Lobato Faria Roncon, nas Armas Submarinas, o STEN RN José Manuel de Oliveira Bacharel, na Navegação e o ASP RN José Augusto Pires de Lima no Centro de Informações de Combate. Gente tão diferente que soube, por essas mesmas diferenças, criar um espírito de camaradagem e demonstrar uma operacionalidade que ainda hoje recordo. Como recordo de forma especial, a personalidade dos três primeiros que terminaram já o ciclo inexorável da vida e que foram, cada um à sua maneira, três referências para um jovem Aspirante RN de então. Nesse dia, ajudado por rebocadores, o navio largou com destino ao Mar da Palha, terminando a faina amarrado à Bóia, no Quadro dos Navios de Guerra, frente ao Terreiro do Paço. Como aperitivo, não nos podíamos queixar. Na manhã seguinte, dando volta à faina da largada, seguimos rumo à Barra Sul, com destino ao local determinado para as provas finais. Céu limpo, ligeira ondulação, vento fraco do quadrante Norte e boa disposição, eram condições ideais para o sucesso da missão. Passara já o 1.º quarto a navegar. A primeira mesa de almoço dera lugar á segunda. A Corrida da Milha repetia-se, confirmando valores obtidos nas anteriores passagens pelas marcas. Tudo corria de feição. De repente, enquanto o navio deixava o Cabo Espichel pela alheta de bombordo, um estoiro monumental se ouviu, acompanhado de fumo negro saído da chaminé. Que provinha da casa das máquinas não havia dúvida. Dúvidas havia quanto ao motivo e consequências. A decisão tomada não podia ter sido outra senão a inversão de marcha e o regresso à Base a velocidade reduzida, não fosse ter de repetir-se a façanha do navegador que deu o nome ao navio, subindo o rio Zaire, desde a foz até Nóqui, à força de braço da guarnição que, da margem, puxava pela Nau contra fortíssimas correntes. No dia seguinte, de novo no Arsenal e arrefecida a caldeira, procedeu-se à abertura da respectiva porta de visita.
A surpresa não podia ter sido maior. Obstruindo os tubos colectores por onde livremente deveria passar o vapor gerado na caldeira, um objecto estranho testemunhava a causa do acidente. Nada mais, nada menos, do que uma saca de serapilheira, vulgarmente usada para proteger as costas dos operários quando executavam tarefas deitados em locais sujos, ali estava exposta para curiosidade geral. Perante a evidência, o inquérito foi fácil de concluir. Esquecimento ou segunda intenção, é segredo por apurar. Foram mais duas semanas de imobilização, com o pessoal fazendo horas extraordinárias, dia e noite. Ficou no entanto, por saber, se essas horas teriam sido pagas a dobrar. Com fotografia do então GM EMQ Mário Abrantes Rodrigues de Almeida, aqui fica a “prova do crime”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uma História por contar Vem de longa data, a dificuldade da Marinha em se impor como entidade respeitada na tarefa de fiscalização das actividades ligadas à pesca. Um país com a dimensão de costa e uma imensa área marítima como é a de Portugal, deveria cultivar o respeito pelo Mar e actuar de acordo com as exigências dessa realidade. Não é assim e, nestas circunstâncias, não nos devemos admirar do facto de outros países nos substituírem nas tarefas que só a nós deveriam respeitar. Em 1967, quando me foi entregue o comando do NRP “ALVOR”, uma lancha de fiscalização construída naquele ano no Arsenal do Alfeite, e que deu nome à “classe”, foi considerada prioritária a sua ida para o estuário do Sado, onde se avolumavam os conflitos entre os pescadores artesanais e os que se dedicavam à apanha da ostra. Era o tempo em que este bivalve tinha mercado garantido em França e, na sua apanha, se empregavam largas dezenas de trabalhadores. Durou pouco tempo a actividade da Alvor no porto de Setúbal. Não foram, no entanto, poucos os autos de transgressão às embarcações vistoriadas, as detenções dos apanhadores da ostra que na maré cheia se ocupavam ilegalmente no arrasto indiscriminado, provocando a ira dos profissionais de pesca locais, nem faltaram as cenas de pancadaria daqui resultantes e que apenas a presença da lancha evitava terminarem com consequências graves. Recordo, dessa época, o excelente entendimento com o capitão do porto de Setúbal, o Comandante Eugénio da Silva Gameiro, que fora meu professor da cadeira de navegação na Escola Naval. A costa algarvia, com base em Faro, foi o destino seguinte do navio. Foi ali que me encontrei, juntamente com a “Aljezur” do José Ferreira Martins, um RN do 8.º CEORN, mais tarde oficial superior do Instituto Hidrográfico, entregue à missão de me confrontar com a poderosa “esquadra” piscatória espanhola, que de Huelva e Isla Cristina atacavam em força as nossas águas, sem qualquer respeito pelo que nos pertencia. E digo, pertencia, porque hoje já pouco nos pertence. Confesso que tendo embora uma costela, bem próxima, castelhana, nunca achei graça ao procedimento sobranceiro que os pescadores espanhóis manifestavam perante a nossa inferioridade numérica naquela área. Daí que sentisse um especial prazer em fazer combóios de embarcações em transgressão, até ao porto de Faro, onde as esperava o julgamento na Capitania. Não era uma nem duas. Tanto quanto permitia a potência dos motores do navio para efectuar o reboque, assim se processava a apreensão que chegou a atingir cinco embarcações em simultâneo. E nesta actividade, cortando a rotina do dia a dia, sucediam-se as peripécias mais interessantes. Certa vez, a não mais de trezentos metros da praia de Monte Gordo, cinco embarcações apresadas foram ligadas por sucessivos cabos de reboque, segundo a ordem conveniente, ficando a maior imediatamente a ré do navio. Ao longo da viagem, foi curioso verificar que os cerca de trinta espanhóis que nelas viajavam não deixavam de se lamentar, numa ladainha que mostrava toda a sua desgraça, acrescida da circunstância de todos eles serem pais de numerosa família o que, pelas contas que fui fazendo, deveria rondar as trezentas crianças que a partir daquele momento iriam morrer à fome. Como é evidente e nada influenciável por este tipo de argumentos, tanto mais que já em semanas anteriores algumas daquelas embarcações tinham sido apresadas com os mesmos prevaricadores, mantive-me de costas voltadas ao cenário que se desenrolava à popa, registando as ameaças de suicídio que alguns de mente mais fraca iam fazendo. É uma distância grande de mais para um reboque naquelas condições, com o Levante a provocar incómodo e algum risco de abalroamento das pequenas embarcações, criando um certo clima de enervamento na guarnição da lancha. E quando os espanhóis iniciaram a tarefa de cortar os cabos de reboque, na esperança de uma quebra da nossa decisão em os levar para Faro, obrigando a uma redobrado esforço para os reunir de novo, pouco faltou para que a nossa paciência chegasse ao limite.
Fomos obrigados a colocar dois marinheiros em duas das embarcações, para impor respeito e obstar a que a cena se repetisse. Foi nessa altura que na última embarcação um pescador iniciou um strep tease dramático, disposto a levar por diante o seu propósito de suicídio. Só não se entendia bem porque razão não haveria o dito de morrer vestido e optava por terminar os seus dias em cuecas. Mas era essa a sua decisão e havia que respeitá-la. O homem gritando que tinha dez filhos a morrer à fome, não lhe restando outro fim que não aquele, não se dispunha, no entanto, a terminar a “faina” sem que eu, como comandante do navio e responsável pela tragédia não me dispusesse a olhar na sua direcção, para presenciar o acto, certo de que a minha alma viveria para sempre cheia de remorso. Fui resistindo até onde a paciência me chegou e já farto do teatro, ao passar ao largo de Tavira, mandei arriar um bote com dois homens da guarnição. Sem dar a entender com que intenção, fi-lo aproximar da embarcação onde o nudista se encontrava e, agarrando-o, metê-mo-lo dentro, seguindo de imediato para a praia e largando-o naquela figura com os desejos de que encontrasse a família rapidamente. Foi remédio santo para os restantes, que a partir daí, receosos de se verem na contingência de irem nus para Espanha, optaram por fazer um longo intervalo nas lamentações. Hoje, ao constatar que o cenário não se alterou no respeitante à eficácia da fiscalização costeira, talvez “nuestros hermanos” nos respeitassem de outra forma se vissem chegar à sua terra um batalhão de pescadores seus, todos nus, com uma mensagem de “amistad” nas mãos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||